Moralismo Religioso e Repressão na Ditadura Brasileira (1964–1985)
Entenda a hipocrisia do discurso religioso durante a ditadura militar de(1964–1985) e como ele serviu para esconder torturas e perseguições.
6/7/20255 min read
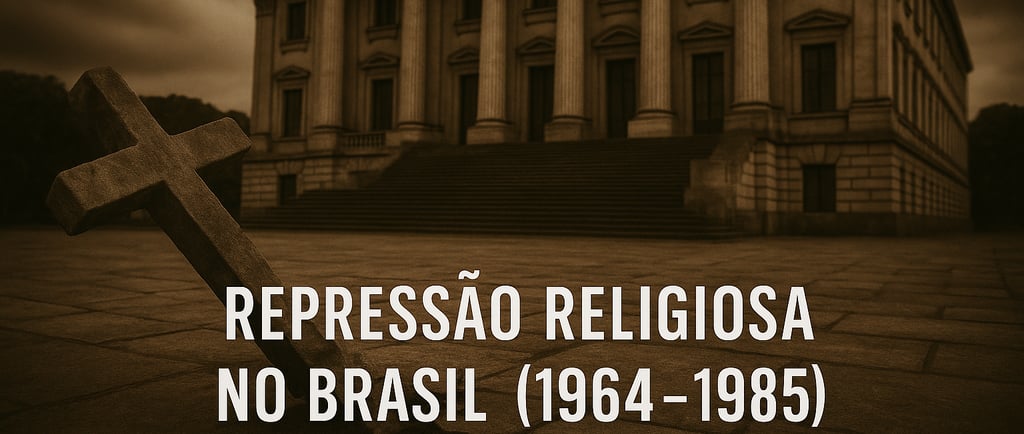
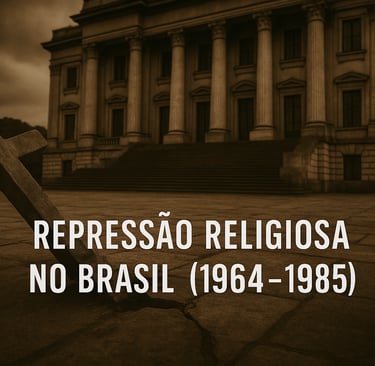
Introdução: fé, poder e silêncio
A fé, em sua essência mais pura, deveria ser sinônimo de esperança, justiça, empatia e compaixão. Ela é uma força capaz de transformar vidas, oferecer conforto e inspirar ações de solidariedade e liberdade. Porém, quando a fé se alia ao poder, ela pode tornar-se uma arma de controle, dominação e exclusão.
No Brasil, especialmente durante o período da ditadura militar (1964–1985), essa triste aliança se materializou de forma cruel. Ao invés de ser um refúgio para as vítimas da repressão, a religião institucionalizada em muitos casos serviu como escudo para os autores das violações de direitos humanos, justificando torturas, censura, perseguições e o silêncio de uma nação.
Este artigo mergulha fundo nesse capítulo sombrio da história brasileira, desvendando como o moralismo religioso contribuiu para perpetuar um regime autoritário que destruiu milhares de vidas e impôs uma cultura de medo. Também mostra as vozes corajosas de resistência dentro da fé, que lutaram para devolver dignidade e esperança.
1. A conexão histórica entre religião e poder no Brasil
Desde o período colonial, a religião e o poder político estiveram entrelaçados no Brasil. A Igreja Católica, oficializada como religião do Estado, era parte integrante da máquina colonial portuguesa, legitimando a escravidão e a dominação sobre os povos indígenas e africanos.
Com a chegada da República, no fim do século XIX, a separação formal entre Igreja e Estado foi declarada, mas a influência religiosa sobre as elites e a população permaneceu forte. Nas primeiras décadas do século XX, diversos movimentos religiosos começaram a atuar não só na esfera espiritual, mas também social e política.
Durante a ditadura militar, que teve início com o golpe de 1964, essa influência ganhou um caráter ainda mais direto. A aliança entre os militares e segmentos conservadores da Igreja Católica e das igrejas evangélicas reforçou a narrativa do "mal necessário", onde a repressão política era justificada em nome da proteção dos valores morais e da segurança nacional.
No entanto, a relação não foi homogênea. Enquanto setores da Igreja Católica, representados por figuras como o Cardeal Dom Paulo Evaristo Arns, o Frei Betto e Dom Hélder Câmara, denunciavam os abusos e lutavam pela justiça, outros grupos religiosos apoiavam e legitimizavam a ditadura. Nas igrejas evangélicas pentecostais, era comum ouvir sermões que exaltavam o regime militar como um "governo ungido por Deus", destinado a proteger a família e a ordem social.
2. Moralismo religioso e legitimação da violência
O moralismo religioso foi um dos principais pilares usados para legitimar a repressão durante os "anos de chumbo". Frases feitas como "defesa da família", "combate ao comunismo" e "proteção dos bons costumes" serviam para mascarar a violência institucionalizada que se instalava nas prisões, nos porões do DOI-CODI e em inúmeras delegacias.
Esse discurso moralista impunha uma rígida obediência às autoridades, demonizava qualquer pensamento dissidente e criminalizava movimentos sociais e políticos. A fé, nesse cenário, era convertida em um instrumento de controle social e silenciamento.
Exemplos claros dessa relação incluem:
Igrejas evangélicas pentecostais que não só apoiavam a repressão, mas participavam ativamente dela, denunciando vizinhos e membros de suas comunidades que manifestavam simpatia pela esquerda.
Sermões que transformavam militantes políticos em inimigos espirituais, pregando a necessidade de vigilância contra o "perigo vermelho" — expressão usada para estigmatizar comunistas e opositores.
O moralismo sexual como arma, onde a moral religiosa justificava até mesmo a censura artística e cultural, como ocorreu com o fechamento de jornais, revistas e a perseguição a artistas e escritores.
Este clima criou uma atmosfera de medo e conformismo, onde a fé deixou de ser um espaço de liberdade para se transformar num instrumento de repressão psicológica.
3. A repressão institucionalizada e o silêncio imposto pela fé
O Estado brasileiro criou mecanismos brutais para oprimir opositores políticos durante a ditadura. O DOI-CODI (Destacamento de Operações de Informações - Centro de Operações de Defesa Interna) foi um dos centros mais temidos, onde métodos de tortura física e psicológica eram rotineiros.
Relatos documentados mostram que mulheres prisioneiras, além de espancamentos e choques elétricos, eram vítimas de violências sexuais inimagináveis — estupros com objetos, humilhações degradantes e até o horrendo ato de inserir ratos vivos em seus órgãos genitais. Essas práticas tinham o objetivo não apenas de destruir o corpo, mas também a força moral e espiritual das vítimas.
Neste cenário de horror, a aliança entre militares e certos segmentos religiosos foi determinante para esconder essas atrocidades da opinião pública. O discurso religioso oficial servia para legitimar o regime, ao sugerir que a ordem militar era um projeto divino para proteger a nação.
O silêncio das igrejas cúmplices foi ensurdecedor, colaborando para a cultura do medo e do esquecimento. Muitas vítimas ficaram isoladas e desacreditadas, enquanto seus algozes usavam a fé como justificativa.
4. A hipocrisia dos "salvadores da pátria"
Aqueles que proclamavam agir "em nome de Deus" nem sempre estavam imunes a interesses escusos. A fé servia como fachada para esconder envolvimento em práticas autoritárias, corrupção e alianças políticas duvidosas.
Documentos da Comissão Nacional da Verdade revelaram que padres e pastores chegaram a colaborar com agentes do Estado, informando sobre encontros e atividades de grupos progressistas dentro de suas próprias igrejas, que posteriormente eram invadidas por militares.
Esse tipo de traição institucionalizada minou a confiança da população nas instituições religiosas e gerou um trauma que ainda reverbera na sociedade brasileira.
5. As vozes da resistência dentro da fé
Apesar do quadro sombrio, houve resistências importantes. Líderes religiosos como o Cardeal Dom Paulo Evaristo Arns, conhecido pela coragem e pela defesa dos direitos humanos, a irmã Dorothy Stang, mártir da Amazônia, e os representantes da Teologia da Libertação denunciaram as injustiças, defenderam os oprimidos e pagaram com ameaças de morte, exílio e assassinato.
A publicação do livro "Brasil: Nunca Mais" (1985) foi uma iniciativa pioneira que reuniu milhares de documentos oficiais que comprovaram os crimes cometidos pelo regime. Essa ação, com o apoio da Arquidiocese de São Paulo, ajudou a quebrar o silêncio e abrir caminho para a memória e a justiça.
6. Por que precisamos falar disso hoje?
O Brasil contemporâneo ainda enfrenta o legado desse passado. O discurso moralista-religioso continua sendo usado para atacar opositores, calar vozes críticas e proteger interesses políticos e econômicos.
Líderes que se dizem defensores da "família e dos bons costumes" são frequentemente envolvidos em escândalos e propagam discursos de ódio que dividem a sociedade. Reconhecer o papel da fé durante a ditadura é fundamental para combater essas práticas e evitar que a história se repita.
Conclusão: fé como força de transformação, não de dominação
A fé verdadeira deveria ser instrumento de liberdade, empatia e transformação social. Quando usada como ferramenta de poder e repressão, ela se torna cúmplice de tragédias históricas.
Separar espiritualidade de manipulação, moralidade de repressão e justiça de autoritarismo é um desafio permanente para a sociedade brasileira.
Que a memória das vítimas e a coragem dos que resistiram inspirem as novas gerações a lutar por uma fé que liberta e humaniza, e não por uma fé que escraviza e silencia.
Análise
Explorando a relação entre fé e política.
Religião na Política
© 2025 Religião na Política. Todos os direitos reservados